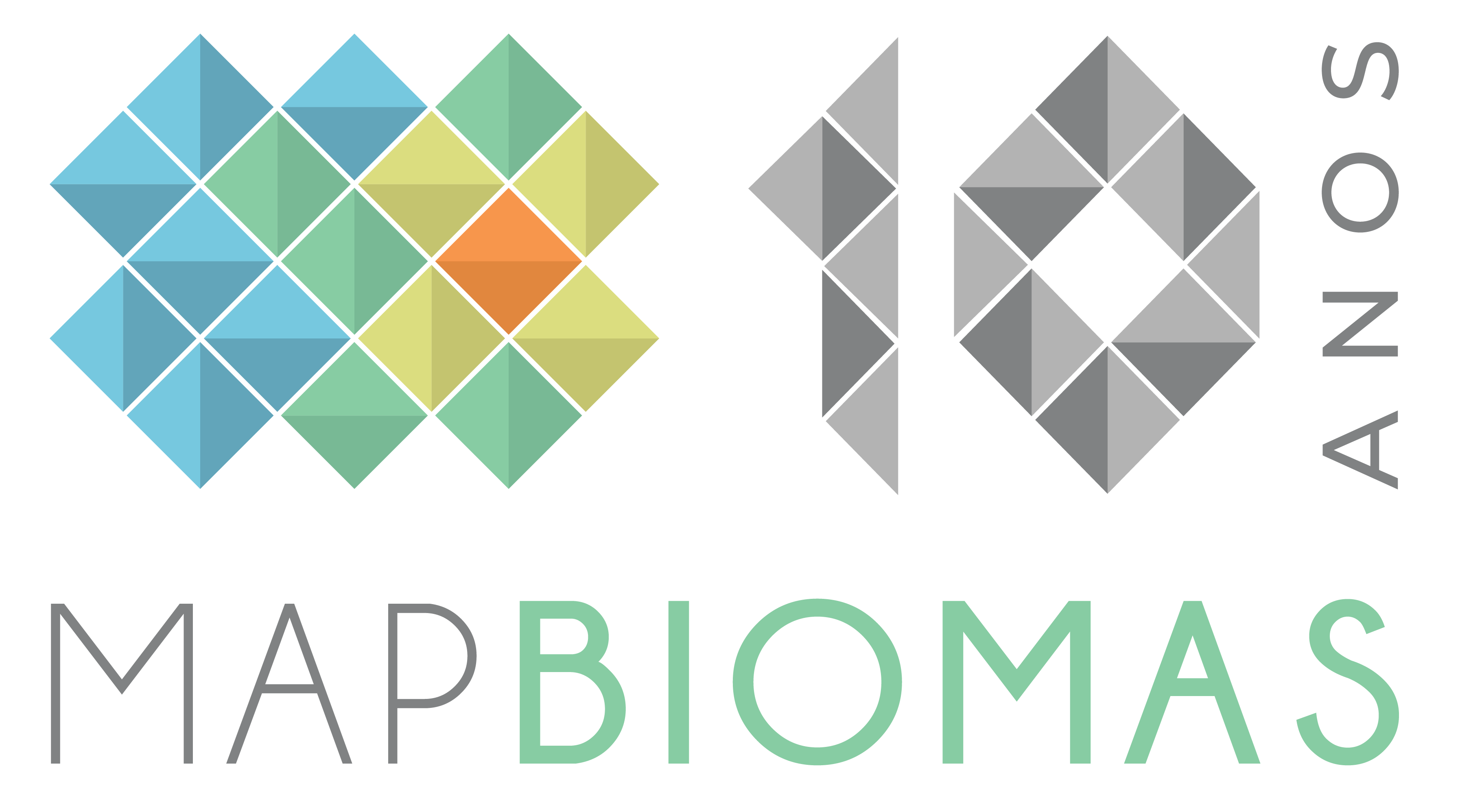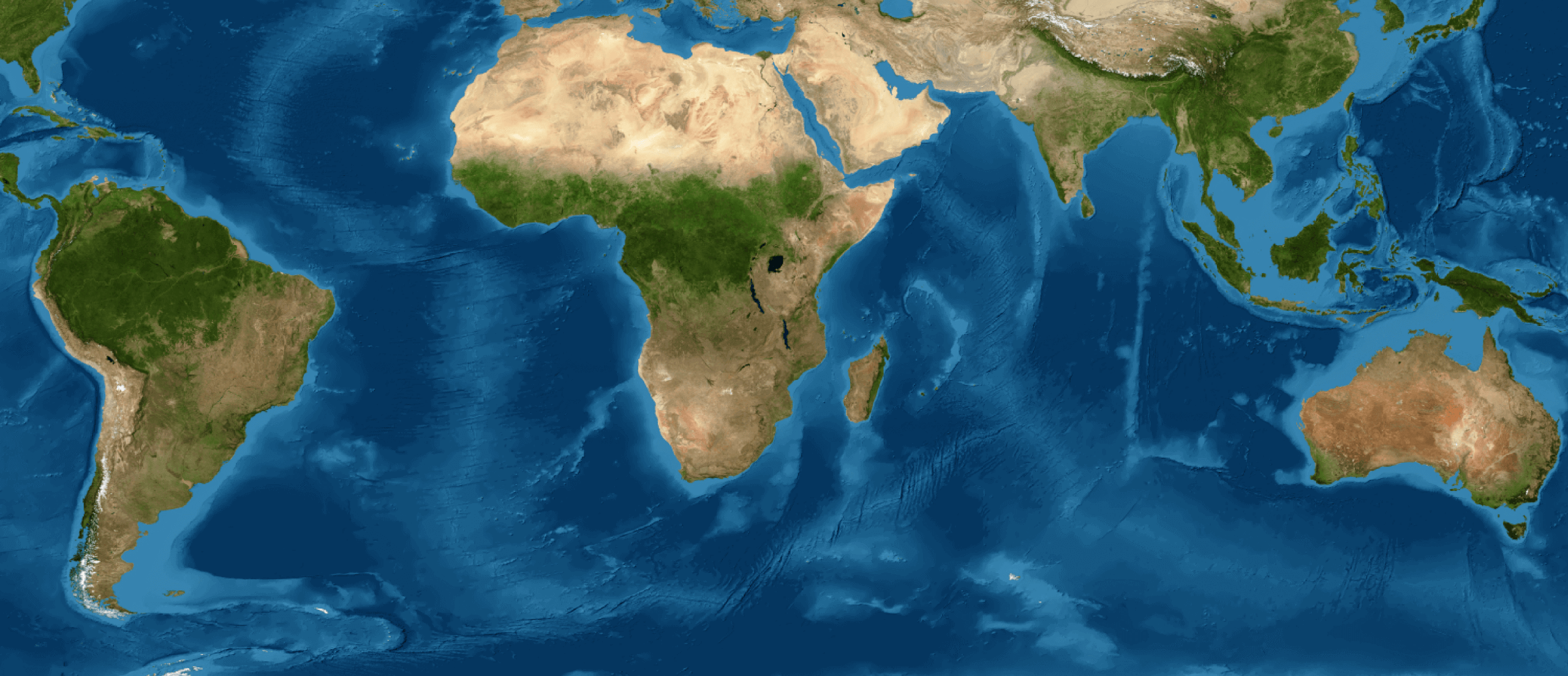09 de outubro de 2025

Em 2024, 45,6% do Pampa estavam ocupados por algum tipo de uso antrópico, com predomínio do uso agrícola (agricultura e mosaico de usos: 41%) e da silvicultura (4%), além de outros, como áreas urbanas e mineração . Esse percentual já é ligeiramente maior que os 44,5% que ainda são cobertos por vegetação nativa e coloca o Pampa como o segundo bioma brasileiro com o menor percentual de cobertura de vegetação nativa, ficando atrás somente do bioma Mata Atlântica. É o que mostra o mais recente levantamento da Coleção 10 de mapas e dados sobre cobertura e uso da terra no Brasil do MapBiomas, elaborada com base em imagens de satélite, e que está sendo lançado nesta quinta-feira (09/10).
A área ocupada por algum tipo de uso humano totalizou 8,8 milhões de hectares em 2024 – crescimento de 76 % desde 1985. A expansão se deu sobre os 3,8 milhões de hectares de vegetação nativa que foram suprimidos no período. A vegetação campestre, que é típica e simboliza o bioma, foi a mais afetada nesse período. A área de campo nativo do pampa brasileiro recuou de 9,8 milhões de hectares em 1985 para 5,9 milhões de hectares em 2024. Essa perda de vegetação nativa até 2024 representa uma queda de 30,3% em relação a 1985 e equivale a uma fatia de 19,4% do bioma. Foi a maior perda proporcional de vegetação nativa nos últimos 40 anos dentre todos os biomas brasileiros. As maiores perdas de vegetação campestre, no período avaliado, ocorreram principalmente na última década (2015 e 2024).
Por outro lado, outros tipos de vegetação nativa também presentes no bioma, como as florestas, os banhados e as restingas (vegetação florestal ou herbácea que ocorre sobre solos arenosos e dunas da zona costeira) se mantiveram relativamente estáveis ao longo das últimas quatro décadas.
Entre os usos antrópicos do bioma, a cultura da soja se destaca. Entre 1985 e 2024 a área plantada com essa oleaginosa passou de 827 mil hectares para 3,2 milhões de hectares – um aumento de 385%. A expansão da silvicultura, que se deu de modo mais concentrado nas regiões da Serra do Sudeste e da Zona Costeira, foi de 15,7 vezes em 40 anos, passando de 44 mil hectares em 1985 para 738 mil hectares em 2024. A maior expansão se deu entre 2005 e 2014, quando houve acréscimo de 304 mil hectares.
Uma análise por municípios permite compreender melhor o nível de transformação das paisagens do Pampa. Se em 1985, 45% dos municípios do Pampa tinham a agricultura como principal uso do solo, em 2024 esse percentual saltou para 64%. Na última década (entre 2015 e 2024), a área de uso agrícola inclusive ultrapassou a dos campos com pecuária. No ano passado, 7,9 milhões de hectares já eram ocupados por uso agrícola, enquanto que 5,8 milhões de hectares permaneciam ocupados por campos nativos com uso para a pecuária, conservando essa vegetação nativa.
“Esse nível de transformação das paisagens do Pampa, com grandes perdas acumuladas de vegetação nativa, demanda uma reflexão sobre o futuro do bioma. A vegetação nativa é importante para o equilíbrio ecológico, além de proteger o bioma contra os efeitos das mudanças climáticas”, comenta Heinrich Hasenack, coordenador da pesquisa no Pampa do MapBiomas.
Outro dado levantado pelo mapeamento é que o Pampa é o bioma brasileiro com a menor proporção de unidades de conservação no Brasil: apenas 3% (575 mil hectares) de seu território estão protegidos por unidades de conservação (2,4% em unidades de conservação de uso sustentável e 0,6% em unidades de conservação de proteção integral). Elas concentram 5,4% da vegetação nativa do bioma. “A combinação da grande perda da vegetação nativa com o baixo grau de proteção em áreas protegidas deixa o bioma numa situação de grande vulnerabilidade ambiental”, complementa Hasenack.
Sobre o Pampa
O bioma Pampa se estende por 83,3 milhões de hectares espalhados por três países da América do Sul (Argentina, Brasil e Uruguai), ocupando 4,7% do continente. Mais da metade (56%, ou 46,7 milhões de hectares) fica na Argentina; o restante se divide entre Brasil (23%, ou 19,4 milhões de hectares, todos concentrados no estado do Rio Grande do Sul) e Uruguai (21%, ou 17,8 milhões de hectares – a totalidade do país).
O pampa é caracterizado por uma vegetação herbácea nativa constituída por uma mistura de gramíneas e ervas que variam entre 5 e 50 cm. Em um único metro quadrado de campo já foram encontradas mais de 50 espécies de plantas. Espécies lenhosas como subarbustos e árvores isoladas podem estar presentes, mas com baixa cobertura.
O pesquisador Eduardo Vélez, da equipe do MapBiomas Pampa, comenta que o bioma sofre com a falta de compreensão sobre a importância dessa vegetação nativa herbácea: “O fato da vegetação campestre do Pampa não ter a mesma exuberância das florestas tropicais acaba contribuindo para que a perda dessa vegetação nativa não tenha o mesmo impacto na percepção da sociedade que o desmatamento das florestas provoca. Entretanto, a importância ecológica dos campos é equivalente à das florestas, sendo cruciais para a conservação do solo, o controle da erosão, a infiltração da água no solo e a existência de polinizadores, dentre tantos outros serviços ecossistêmicos relevantes.
A formação campestre é o habitat da fauna campestre, abrigando diversas espécies de plantas e animais, várias delas ameaçadas de extinção. Ao mesmo tempo, também é usada para a criação de rebanhos bovinos. As folhas das plantas são consumidas pelos rebanhos (forragem), sendo a base da atividade pecuária regional. A pecuária no Pampa se notabiliza por ser um exemplo de uso sustentável da natureza.
Outras características notáveis do Pampa incluem a ausência de uma estação seca. Nas últimas três décadas, todos os meses do ano tiveram precipitação mensal média acima de 100 mm. Em contraste com os demais biomas do Brasil, a sazonalidade é determinada pelas variações de temperatura e da radiação solar. Entretanto, algumas regiões do Pampa podem sofrer em determinados anos os efeitos severos da seca durante períodos sob o fenômeno climático La Niña.
Com 9% do bioma coberto por água, o Pampa é o bioma com a maior superfície proporcional de água – em especial, por conta da Laguna dos Patos, das lagoas Mirim e Mangueira, além de dezenas de lagoas costeiras. Entretanto, a abundância de água na zona costeira contrasta com algumas regiões do bioma com hidrografia de rios pouco caudalosos.